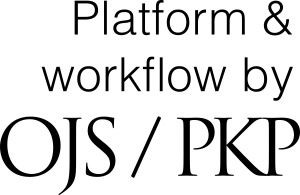Chamada para envio de artigos para duas edições (2026)
A41 EXTRA (2026) Descolonizando a Justiça Espacial da Palestina: Espaciocídio, Resistência e Geografias Ressonantes de Luta
Editores convidados:
Arquiteta e professora assistente na Universidade de Birzeit (Departamento de Arquitetura). Seu trabalho concentra-se em políticas espaciais sob o colonialismo de povoamento, estudos urbanos descoloniais e epistemologias feministas e indígenas do espaço. Publicou sobre espaçocídio , arquitetura sitiada e políticas de reconstrução, situando o espaço palestino como base teórica para repensar geografias globais de injustiça.
Arquiteto e professor assistente no Departamento de Engenharia Arquitetônica e Planejamento da Universidade de Birzeit. Sua pesquisa examina infraestruturas coloniais, fragmentação territorial e o papel da arquitetura na mediação entre soberania e deslocamento. Atua em análise espacial, cartografia crítica e pedagogia do design em contextos de conflito e ocupação.
A justiça espacial, tal como teorizada por Lefebvre, Harvey e Soja, vincula a produção do espaço às lutas por direitos, participação e redistribuição. No entanto, tais abordagens pressupõem, em grande parte, um Estado legítimo capaz de garantir a justiça. Em condições coloniais de povoamento, essa suposição se desfaz. A injustiça espacial não é um desvio, mas a própria lógica de governo: uma ferramenta para apagamento, fragmentação e desapropriação.
Na Palestina, a violência espacial se manifesta por meio de zoneamento, infraestrutura militarizada, confisco de terras, urbanismo de vigilância, controle da mobilidade e precariedade artificial da vida. Essa destruição sistemática da presença indígena[1] —o que acadêmicos palestinos teorizaram como espaçocídio— torna as estruturas liberais de inclusão ou reforma democrática estruturalmente incapazes de produzir justiça. A questão não é como os colonizados podem obter "acesso" ao Estado, mas como a libertação, a soberania territorial e as práticas cotidianas de resistência rompem as ordenações espaciais coloniais.
Por essa razão, a Palestina é o fundamento epistêmico e político central desta questão. Não se trata apenas de um estudo de caso, mas de um ponto de vista a partir do qual se pode repensar a própria justiça espacial. A Palestina nos obriga a confrontar os limites do discurso dos direitos, a ficção do planejamento neutro e a cumplicidade da Arquitetura e dos sistemas de infraestrutura na dominação colonial.
As formas de controle espacial implementadas na Palestina repercutem amplamente, desdobrando-se em infraestruturas de cerceamento e controle, securitização, extração de recursos e deslocamento que ecoam, aí e em outros territórios, moldadas pelo colonialismo do povoamento, do capitalismo racial e do desenvolvimento militarizado.
Das lutas indígenas nas Américas à contenção urbanizada de refugiados no Líbano ou na Jordânia, passando pelas fronteiras extrativistas no Sul Global, regimes semelhantes de desapropriação —embora não idênticos— produzem arquiteturas comparáveis de vulnerabilidade.
Esta edição especial, portanto, acolhe contribuições que colocam a Palestina em primeiro plano e, ao mesmo tempo, constroem solidariedades intelectuais e práticas com outras geografias de luta —não para universalizar a Palestina, mas para conectar conhecimentos situados e formas comparativas de resistência que excedem o Estado-nação.
Buscamos contribuições da arquitetura, urbanismo, geografia, ecologia política, história, sociologia urbana, prática artística e pesquisa interdisciplinar que questionem como a justiça espacial deve ser redefinida quando a própria soberania é negada, contestada ou coletivamente reimaginada.
Desenvolvimento da abordagem
A noção de direito à cidade de Lefebvre posicionou a produção espacial como um ato político —um ato que reflete hierarquias de poder, sistemas econômicos e controle social. Esses discursos orientados ao capitalismo criticam a desigualdade e as estruturas urbanas exploratórias e tendem a pressupor um Estado-nação capaz de fazer valer direitos e mediar conflitos de classe. A justiça espacial, portanto, tem sido frequentemente enquadrada como um projeto reformista —de redistribuição, inclusão e democratização, sem questionar a legitimidade do próprio Estado-nação. Em contextos coloniais de povoamento, como a Palestina, as lógicas de inclusão, recuperação e democratização da cidade não conseguem alcançar a justiça espacial. Embora arcabouços teóricos enraizados em discursos sobre direitos cívicos e luta de classes sejam pertinentes, eles podem inadvertidamente legitimar um Estado e a presença de colonos ilegítimos, obscurecendo a distinção entre o colonizador e o colonizado. A injustiça espacial não pode ser separada da questão separada da questão da soberania, assim como de em qual terra se situa. Nesse contexto, a injustiça espacial não é meramente o resultado da desigualdade econômica, mas é a ferramenta fundamental da dominação colonial por meio do apagamento ou deslocamento de povos indígenas e das relações coloniais contínuas e da violência espacial que projetam e produzem o espaço.
De uma perspectiva deleuziana, a ideologia espacial colonial sionista, estabelecida desde 1948, visava à desterritorialização e reterritorialização dos indígenas da Palestina. Essa ideologia existe desde o final do século XIX, mesmo antes da Nakba palestina, e continua até hoje, como fica claro no genocídio em curso em Gaza. Dessa perspectiva, a justiça espacial na Palestina não pode ser entendida por meio de estruturas liberais ou reformistas de inclusão. Ela exige um repensar decolonial —que priorize a libertação coletiva, o conhecimento espacial autóctone e atos cotidianos de resiliência contra o espaçocídio. Portanto, essa questão vai além de simplesmente garantir a inclusão dentro das estruturas espaciais e políticas existentes. Ela visa desafiar as noções dominantes de justiça espacial e considerar contextos além do Estado-nação.
O contexto colonial de povoamento também revela as limitações da cidadania como estrutura primária para direitos nas noções dominantes de justiça espacial. Estar sob ocupação, ser refugiado ou desterritorializado, residente ou cidadão de segunda classe, ou apátrida, torna a cidadania inatingível ou instrumentalizada. Esta edição convida à reflexão sobre a ruptura da noção de injustiça espacial na geografia palestina e à exploração de formas alternativas de pertencimento e comunidade política —como a administração comunitária, cooperativas, solidariedades transnacionais e infraestruturas comunitárias— que subvertem as identidades definidas pelo Estado.
Ao mesmo tempo, o recuo ou a fragmentação do aparato colonial de assentamento não necessariamente resulta em justiça espacial. Em todo o mundo, o Estado-nação tem sido acompanhado pela ascensão do poder corporativo, das infraestruturas e dos sistemas financeiros que agora moldam o território e a subjetividade. Na Palestina, como em outros lugares, a governança espacial está cada vez mais privatizada. A questão de quem controla o espaço —e por meio de quais aparatos econômicos, jurídicos ou digitais— exige um escrutínio urgente.
Objetivo
Convidamos contribuições que desafiem as estruturas herdadas de justiça espacial, soberania e cidadania, vislumbrando mundos alternativos para além do Estado colonial e corporativo. Esta edição especial da Astrágalo visa explorar leituras críticas e descoloniais da justiça espacial através do contestado contexto colonial da Palestina. Aceitamos contribuições que questionem o conceito de justiça espacial e busquem compreender a agência comunitária, explorar formas alternativas de soberania local e repensar práticas de pertencimento para além da cidadania. Incentivamos, em particular, contribuições que também busquem analisar como a arquitetura, a prática espacial e o design possibilitam essas formas emergentes de autonomia coletiva.
Embora esta edição se concentre principalmente na Palestina, também incentivamos contribuições de outras geografias conectadas ou que ressoem com a experiência palestina. Acolhemos explorações de soberanias alternativas e formas de agenciamento espacial que desafiem e transcendam as estruturas dominantes do Estado-nação e do poder colonial, oferecendo insights sobre lutas compartilhadas por justiça, pertencimento e transformação coletiva.
Eixos Temáticos
Justiça Espacial no Contexto Colonial de Colonização
- Leituras decoloniais de Lefebvre, Harvey e Soja em contextos não estatais.
- As dimensões arquitetônicas e infraestruturais do espaçocídio.
- Soberania corporativa como uma forma de injustiça espacial.
Soberanias alternativas e formas de resistência espacial
- Sistemas indígenas de administração de terras e soberania comunitária.
- Cooperativas, redes de assistência mútua e infraestruturas autônomas.
- Modelos de governança feminista e ecológica como práticas espaciais.
- Memória, narrativa e a recuperação de geografias apagadas.
- Arte, arquitetura e pedagogia como ferramentas de justiça espacial decolonial.
Além da Cidadania: Práticas de Pertencimento e Direitos Coletivos
- Cidadania cotidiana e agenciamento espacial entre comunidades desterritorializadas ou não reconhecidas.
- Hospitalidade, refúgio e cuidado como atos espaciais políticos.
- Reimaginando fronteiras, identidade e movimento por meio da arquitetura e da arte.
[1] A identidade indígena entendida como continuidade histórica, somada ao direito político à terra diante de um regime de colonização.
----------
A42 (2026) Renaturalização das cidades: a valorização do urban wilderness
Editor convidado: Carlos García Vázquez. Departamento de História, Teoria e Composição Arquitetônicas. Escola Técnica Superior de Arquitetura, Universidade de Sevilha.
Envio de artigos até: 15 de junho de 2026
Revisão por pares até: 20 de julho de 2026
Publicação em: setembro de 2026
O conceito de “renaturalização”, ou “rewilding” em inglês, surgiu na década de 1990 no campo das ciências ambientais. Referia‑se a uma estratégia que consistia na reintrodução de espécies vegetais silvestres e de animais selvagens num determinado ecossistema, assim como na restauração dos seus factores abióticos. Actualmente, o eixo que unifica as diferentes versões do conceito é a identificação da renaturalização com a auto‑sustentabilidade e a auto‑regulação, e a consequente rejeição de uma gestão humana contínua e intensiva dos espaços naturais.
No início deste século, o conceito de renaturalização passou para os estudos urbanos. Neste âmbito, convém diferenciar entre a estratégia —a “renaturalização urbana”— e os lugares onde se aplica, as áreas que a literatura anglo‑saxónica denomina “urban wilderness”. Quanto à estratégia, Nausheen Masood e Alessio Russo definem‑na como “[…] uma ideia, uma iniciativa ou uma estratégia ecológica para trazer maior diversidade a uma área urbana através da introdução de flora e fauna nativas na infraestrutura urbana”, destacando assim que o objectivo da renaturalização urbana é potenciar a biodiversidade das cidades. Em relação aos lugares onde se implementa, o ecólogo urbano Ingo Kowarik descreve o urban wilderness como: “[…] locais caracterizados por um elevado nível de auto‑regulação nos processos do ecossistema, incluindo dinâmicas populacionais de espécies nativas e não‑nativas com assembleias comunitárias abertas, onde os impactos humanos directos são desprezíveis”. Em outras palavras, tal como acontece nas ciências ambientais, também a base da renaturalização urbana é a auto‑sustentabilidade e a auto‑regulação.
Para concretizar que naturezas urbanas podem ser consideradas “urban wilderness”, Kowarik define quatro categorias que correspondem a diferentes graus de interferência humana: “Nature 1 representa remanescentes de ecossistemas primitivos (por exemplo, florestas, zonas húmidas); Nature 2 parcelas de usos agrícolas ou silvícolas (por exemplo, campos, prados geridos, florestas cultivadas); Nature 3 representa espaços verdes urbanos projectados (por exemplo, parques, jardins); e Nature 4, ecossistemas urbanos novos (por exemplo, terrenos baldios, lotes vagos, entulhos) que podem surgir após uma ruptura no desenvolvimento do ecossistema, por exemplo, na esteira de actividades de construção”. Segundo Kowarik, as naturezas que apresentam um maior nível de auto‑sustentabilidade e auto‑organização dos ecossistemas são a primeira e a quarta: zonas urbanas abandonadas durante um longo período de tempo e que foram colonizadas por vegetação espontânea e fauna selvagem. Podem tratar‑se de trechos de mato que crescem nas margens das vias; terrenos não edificados; infra‑estruturas abandonadas; áreas pós‑industriais cheias de fábricas e armazéns em ruínas; ou espaços periurbanos não construídos nem cultivados.
Nos anos 1970, os ecólogos urbanos começaram a valorizar o urban wilderness, onde descobriram ecossistemas muito mais biodiversos do que os existentes em áreas agrícolas (segunda natureza) ou parques urbanos tradicionais (terceira natureza), onde plantas e animais se ajustam à especificidade funcional do meio. As políticas urbanísticas do século XX, contudo, consideravam estas zonas “ervas daninhas” e, por conseguinte, “anomalias” a corrigir. Não é de estranhar: a defesa da preservação do urban wilderness implica uma mudança de paradigma que exige ampliar a ideia de cidade para além do construído —o resultado da planificação urbanística— de modo a abranger o conjunto de relações que humanos, animais, vegetais e minerais estabelecem no ambiente urbanizado. Isto coloca um difícil desafio aos urbanistas: impele‑os a dar um passo atrás, a deixar parte da definição da cidade nas mãos da natureza. Na última década, muitos teóricos e profissionais assumiram este desafio, convencidos de que a onda de decréscimo urbano que começou na década de 1970, deixando para trás inúmeras áreas abandonadas, não foi passageira, mas se tornou um componente estrutural das cidades contemporâneas. O urban wilderness deixou de ser considerado uma anomalia para passar a ser visto como uma parte integrante da cidade que pode oferecer numerosos benefícios em termos de biodiversidade.
Nesta edição de Astrágalo propomos reflectir sobre a valorização do urban wilderness, sobre políticas de renaturalização urbana que não pretendam apenas alcançar a sustentabilidade das cidades, mas também reparar parte dos danos que estas causaram à natureza. A edição convida também a explorar leituras críticas, pós‑urbanas e des‑hierarquizadoras do conceito de renaturalização, contribuições que questionem a dicotomia natureza‑cidade e que analisem os espaços ferais, residuais ou abandonados como âmbitos de emergência de novas ecologias sociais, materiais e simbólicas. As propostas poderão abordar como estas naturezas urbanas disruptivas alteram os enquadramentos tradicionais de planificação, desafiam a lógica extractiva e neoliberal da urbanização e permitem imaginar formas de habitar mais abertas, híbridas e não exclusivamente antropocêntricas.
[1] Nausheen Masood y Alessio Russo, “Community Perception of Brownfield Regeneration through Urban Rewilding”, Sustainability, 15 (4), 2023, 2.
[2] Ingo Kowarik, “Urban wilderness: Supply, demand, and access”, Urban Forestry and Urban Greening, 29 (enero), 2018, 336-47.
[3] Kowarik, “Urban wilderness”, 337.
[4] Kowarik atribui à segunda natureza, áreas rurais, um nível médio, e à terceira, parques e jardins tradicionais, um nível baixo.







 2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3
2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3