
ISSN: 2255-5129
© 2024. E. Universidad de Sevilla. CC BY-NC-SA 4.0
Nº 23 | Segundo Semestre 2024
História Cultural da Imprensa: O Tempo Presente – Brasil (1980-2010)
Marialva Barbosa
Mauad X, Rio de Janeiro, 2024
224 páginas
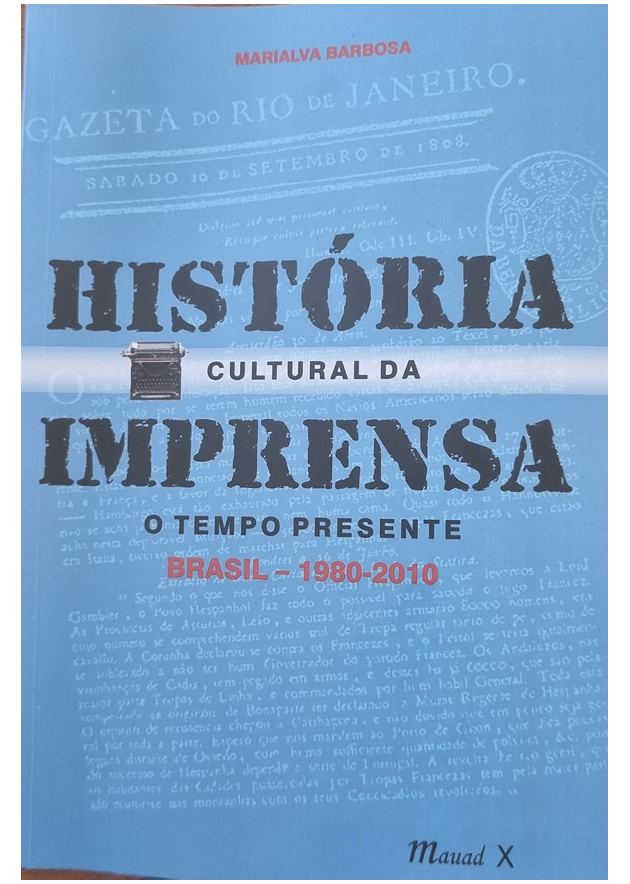
Reseña por Cristine Gerk
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Como citar esta reseña:
Viñarás, C. (2024): “Presente para o passado – uma síntese poética da história da imprensa” [Reseña del libro História Cultural da Imprensa: O Tempo Presente – Brasil (1980-2010), por Marialva Barbosa]. Revista Internacional de Historia de la Comunicación, (23), pp. -259.
Presente para o passado – uma síntese poética da história da imprensa
Em 2007, Marialva Barbosa se lançou na desafiadora aventura de sintetizar uma História Cultural da Imprensa do Brasil, escrevendo o primeiro livro de uma série histórica que logo se tornaria referência nas universidades do país. Quatorze anos após a segunda obra, lançada em 2010, chegou neste ano às livrarias o terceiro livro fruto da empreitada, nomeado uma “História Cultural da Imprensa: O Tempo Presente – Brasil (1980-2010)”, lançado pela editora Mauad X. O último volume da trilogia coroa brilhantemente a proposta, conduzindo o leitor em uma viagem histórica, poética e social pelos rastros da imprensa brasileira do final do século XX ao início do século XXI, integrando desta vez outros espaços territoriais e diversas expressões midiáticas. Fazendo dos vínculos do presente com o passado o nexo da abordagem, Barbosa usa sua prosa acessível e ao mesmo tempo profunda para um mergulho, na primeira parte da obra, por transformações das quais a autora também foi testemunha: a modernização, o jornalismo popular e as revistas. Na segunda etapa, inclui outros territórios; o Movimento Negro e sua imprensa; e as transformações mais contemporâneas, fazendo ainda uma crítica construtiva ao manejo das pesquisas históricas que vêm sendo realizadas. Ao final de cada capítulo, encontramos os principais pressupostos teóricos em sessões denominadas “Iluminuras” – uma abordagem inovadora que foge dos tratados tradicionais, ensaia possibilidades de construção e nos convida a pensar de forma mais ampla. A autora procura, assim, se afastar dos modelos que repetem tratados herméticos, incompreensíveis e que querem se fazer científicos pelo regime de citação.
Este último volume da trilogia é dividido em duas partes: as “relembranças” se referem aos espaços de locomoção da pesquisadora, que remonta uma história próxima à sua experiência. A segunda etapa é dedicada às interpretações de outros pesquisadores, permitindo a inclusão de diversos territórios e processos que se desenrolaram na imprensa nos últimos anos. Na introdução, a autora já anuncia a renúncia a uma cronologia estanque e limitante: em vez de seguir uma ideia de “linha de progresso”, a obra lida o tempo todo com jogos pluridimensionais, surpreendendo o passado com os trabalhos de relembrança de Barbosa. Mistura, assim, fronteiras e tempos, ultrapassando uma lógica evolucionista de sucessão.
Seguindo a lógica da categoria “relembranças”, Marialva Barbosa divide a obra em dois movimentos: o dentro e o fora. O dentro se refere a espaços de locomoção, territorial e memorável, da própria autora. E o fora refere-se a interpretações variadas produzidas por outros pesquisadores sobre a temática, ajudando a compor outros territórios mediáticos fora do eixo Rio-São Paulo e englobando processos diversos que se desenrolaram no período em torno da imprensa. O tempo presente que o livro institui, como a autora explica, toma também como demarcadores os movimentos em torno da reinstauração da democracia (1985) e o esgotamento de um tempo mais uma vez chamado como novo, a chamada Nova República (e que culmina com o Golpe de Estado de 2016).
No primeiro capítulo, “O moderno na imprensa e nos jogos memoráveis”, a professora e doutora em História fala sobre os caminhos buscados no jornalismo para a abertura ao moderno, desde a introdução dos primeiros computadores na redação até a adequação das publicações e processos a um projeto econômico liberal, destacando também os anseios do “novo” jornalista. Neste processo, reflete sobre formação, regulação profissional, processos de concentração e o modelo taylorista nas indústrias de mídia, com atividades cada vez mais fragmentadas. Aborda a concentração de títulos nas capitais e, sobretudo, no Rio e em São Paulo, ao mesmo tempo em que observa o movimento de regionalização de publicações em meio aos jogos de poderes locais em estados que assumem posição política estratégica, destacando a estreita relação da imprensa com a política. Nas Iluminuras, trata de conceitos-chave que perpassam as reflexões, como a noção de moderno no jornalismo brasileiro, liberalismo e neoliberalismo e a noção de história do tempo presente.
No segundo capítulo, denominado “Espremendo (às vezes) ainda sai sangue”, Barbosa nos convida a fazer múltiplas leituras em torno das sensações do popular a partir da relação entre o jornalismo e as produções de sentido que relevam a “cultura do povo”, e trata do papel assumido pelo jornalismo de intermediário possível entre o público e o Poder Público. Neste processo, aborda ainda a dimensão populista da audiência, com suas queixas e reclamações, o enfoque da produção voltada para a chamada classe C e os processos textuais e visuais que reforçam a partilha de um mundo comum entre os jornais e o povo. Entendemos que, embora houvesse um discurso no chamado “novo jornalismo popular” de distanciamento em relação a um tipo de cobertura “sanguinária”, na prática os crimes ainda ocupavam muito espaço representativo.
A imprensa só atinge grandes tiragens, na primeira década do século XX, se tornando popular, por chegar a um grande contingente de leitores, quando inclui no seu cotidiano de notícias tragédias e sensações, crimes e violência, num conjunto de textos que produzem inúmeros significados para os leitores (...) (página 48)
Nas Iluminuras, discute sobre as diferenças entre as categorias teóricas “povo” e “popular”, e a sua escolha do termo “jornalismo de sensações” para designar o tipo de imprensa que analisa nesta fase da obra.
O capítulo 3, “Diante das bancas de revistas”, começa tratando da multiplicação de títulos de revistas nas décadas de 80 e 90, sinalizando algumas estratégias das empresas midiáticas na busca de lucros, como o diálogo com leitores e as pesquisas. A segmentação de mercado, o foco nas chamadas classes A e B e a trajetória de sucesso da revista “Veja” também são abordados. Por fim, o foco nos públicos feminino e jovem é problematizado, levando em consideração os tensionamentos das representações dominantes criadas. As Iluminuras trazem ricas contribuições sobre a necessidade de não analisar o contexto apenas como pano de fundo e sim como o outro comunicacional, prevalecendo interpretações produzidas sobre um tempo. Barbosa (página 98) explica: “Não há rupturas fundantes do passado em relação ao presente, assim como não há dois mundos: o das processualidades comunicacionais e o do contexto histórico. A história se constitui como gestos comunicacionais”.
Um dos mais brilhantes do livro, o capítulo 4, “São os do Norte que vêm...”, inicia-se no movimento de revisita a pesquisas feitas na primeira década do século XXI, nos recém-criados programas de pós-graduação do Pará e do Amazonas, na intenção de quebrar o que a autora chama de “silêncios duradouros sobre os meandros midiáticos de lugares tão próximos e tão distantes” (página 105). Barbosa propõe “romper silenciamentos e lógicas macroestruturais e hegemônicas que, na síntese histórica, privilegiam sempre os centros de poder” (página 105). Alguns veículos são selecionados para análise, a partir das pesquisas encontradas por ela: “O Liberal”, “Diário do Pará” e “Amazônia”. Neste momento, mergulhamos na análise de como a Região Norte do país é marcada e caracterizada pela exclusão e a violência, impressões que reforçam as alcunhas de local inabitado, isolado, excluído, esvaziado e passível de dominação. Na representação midiática, segundo a autora, são favorecidos os laços existentes com o poder político local de oligarquias perpetuadas no poder, responsáveis também pela filtragem das informações disponibilizadas, e o apagamento de movimentos históricos particulares em detrimento de uma junção interpretativa de territórios midiáticos diversos.
O capítulo se dedica, na parte a final, a interpretar a violência e a morte como elementos narrativos predominantes e simbólicos dos jornais da Amazônia paraense, e como esta postura reforça o medo em relação a estes locais e a noção de que não há outro caminho possível para as pessoas retratadas a não ser a morte extrema e violenta, sem qualquer traço de humanidade. Neste momento, há uma belíssima e poética dança de interpretações envolvendo vida e morte, memória e esquecimento.
O morto ou a chacina com corpos ao ar livre produzem laços com as notícias anteriores, ao mesmo que as apaga momentaneamente pela profusão de novas informações. A esses mortos, entretanto, sempre é destinado o esquecimento, um morto sem relíquias, sem tumbas, sem lamentos, sem lugares para a materialização de lembranças. Pelo esquecimento, nega-se a eles a possibilidade da vida eterna e da salvação. (página 120).
Entre o final dos anos 1980 e a primeira década do século XXI, pequenos jornais elaborados por grupos não hegemônicos marcavam suas ações a partir de múltiplas reivindicações. Há uma ampliação do universo de circulação de periódicos, em quase todos os estados. Estes processos de busca de inclusão dos excluídos são contemplados no capítulo 5, “Os gritos vêm das comunidades”. Barbosa se dedica mais extensamente a analisar o Movimento Negro e a sua imprensa, com destaque para o periódico “Nêgo” e as demandas de inclusão do continente africano e de expressões originárias como matrizes de suas denominações centrais. Os periódicos não eram só divulgadores das ações dos movimentos, sejam eles negro, feminista ou da vida nas favelas, mas também tinham sentido pedagógico, segundo a autora, ao abordar detalhadamente problemas da vida cotidiana dos próprios grupos. Percebemos neste momento que poucos destes veículos conseguem migrar para plataformas digitais, enquanto o sonho de “democracia da informação” se transformava no barulho da desinformação e na sufocação de movimentos populares pela ideologia neoliberal. Barbosa sugere a outros pesquisadores, ao fim deste capítulo, a construção de uma arqueologia das produções das favelas pelos movimentos comunicacionais das comunidades.
O apagamento da história e o eterno ultrapresente nos estudos de comunicação são temas do último capítulo do livro, o sexto, “Uma história da imprensa: trilhas de pesquisa”. Neste momento, Barbosa expressa a importância da natureza colaborativa nos estudos feitos a partir de redes de pesquisadores e observa o movimento expressivo na comunicação de usar conceitos da História para embasar olhares de diversos estudiosos e para articular rupturas e continuidades. Mas ressalta de forma crítica um outro movimento: o de negação da História como vinculação explícita. A autora também analisa a migração da imprensa para o mundo digital, desde o início primordial em que o on-line era apenas uma extensão da versão impressa dos veículos, que permitia conteúdos suplementares. Caminhamos no texto pelas diferentes fases e organizações da produção jornalística em sua adaptação à nova realidade digitalizada. Nas Iluminuras finais, que se constituem praticamente como um capítulo final à parte, Barbosa se dedica ao desafio de explicar de que forma a questão teórica do tempo foi a categoria principal iluminadora das reflexões de todo o livro, colocando no centro da noção de “historicidade” o agir humano e destacando a dimensão narrativa do tempo.
A história da imprensa deve estabelecer nexos com o contexto comunicacional, com o mundo comunicacional dos territórios estudados. E é isto que Marialva Barbosa faz com maestria neste livro. Presenteia os leitores não apenas com uma história da imprensa, mas com uma história dos atores humanos envolvidos nas tramas, enxergados através da narrativa, no resgate do que chama de “olhar histórico-comunicacional”. Consegue realmente enxergar o presente em relação ao passado. Uma das maiores contribuições da obra é o resgate de uma proposta de síntese em meio a uma erupção de estudos em reduções extremas de escalas. Rompe, assim, com a tendência de analisar demais particularismos ou generalizar processos ocorridos nos maiores centros urbanos como emblema de todas as regiões.