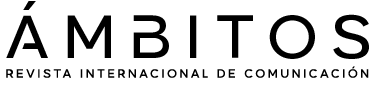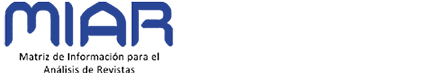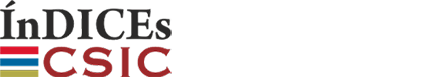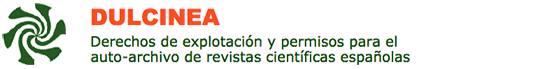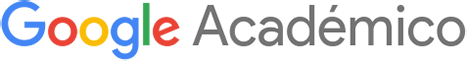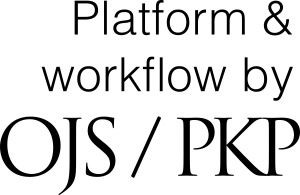ISSN: 1139-1979
e-ISSN: 1988-5733
issn
Información
idioma
apa
indexacion
send
dialnet
Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional”. Puede consultar desde aquí la versión informativa y el texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.

Las revistas tuteladas por la Editorial Universidad de Sevilla, alojadas en los dominios https://editorial.us.es/es/revistas y https://revistascientificas.us.es, tienen asegurado un archivo seguro y permanente gracias a la realización automática, por parte del servicio informático de la universidad, de una copia de seguridad de sus contenidos cada 24 horas. Ello permite a todas las revistas electrónicas de la Universidad de Sevilla preservar sus contenidos frente a cualquier posible eventualidad, puesto que en caso de pérdida o corrupción puntual, es factible acudir a las copias de seguridad diarias.